Seu carrinho está vazio no momento!
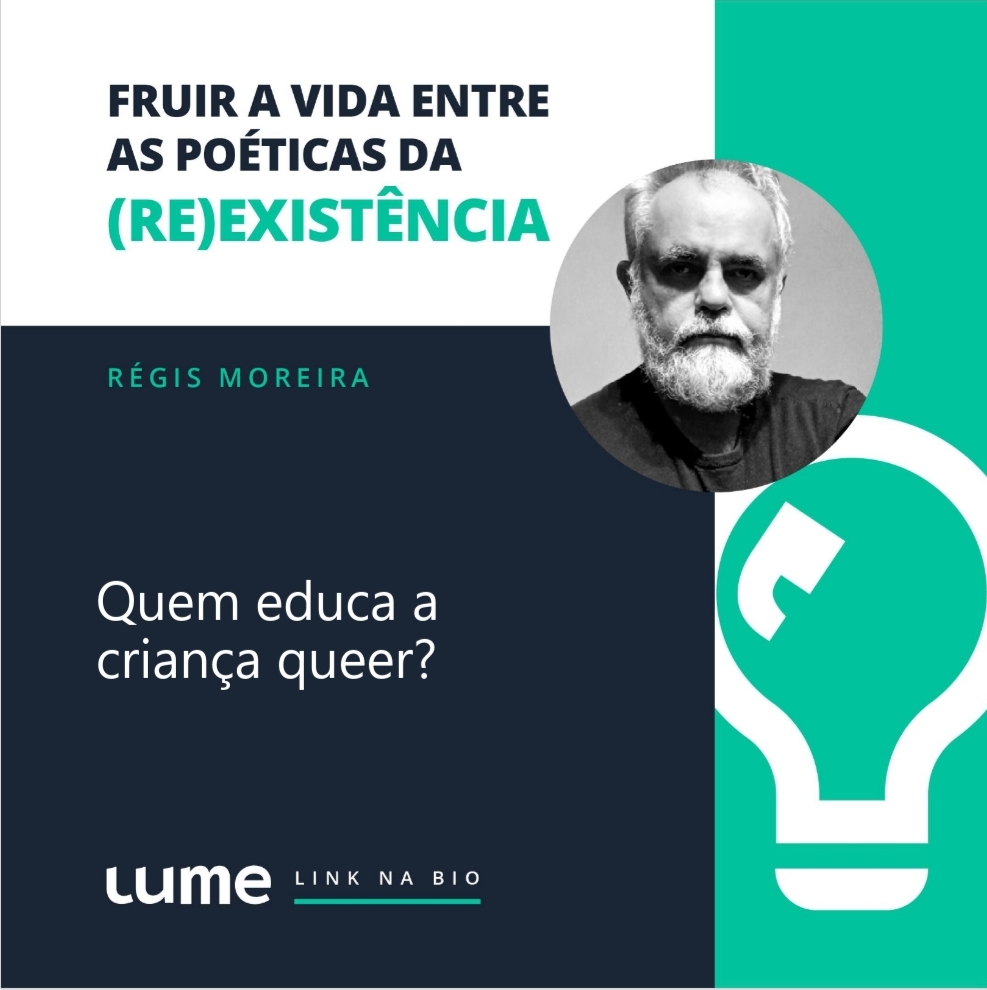
Quem educa a criança queer?
Quem educa o viadinho ou a moleca nas escolas? Quem os defende? Quem cuida dos corpos considerados dissidentes, queer, anômalos que estão em suas salas de aula?
Comecei a ser alfabetizado em plena ditadura militar, no ano de 1975, numa escola pública de uma cidade do interior de São Paulo. Período de censuras, disciplinarizações, perseguições e torturas. Nesta escola dividia-se as turmas, por um critério de classe social. As professoras que eram consideradas melhores ficavam com os ricos e assim sucessivamente. Eu e meus amigos, garotes de vila, fomos parar na turma C, o que me possibilitou o encontro com a Tia Lucinha. Como era encantadora e afetiva essa professora!
A mesma escola possuía um critério de avaliação dos estudantes e fui “promovido” para migrar para a turma A, da Dona Tedesco (nome fictício). Para mim não era nenhum mérito. Abandonar meus amigos da Vila e ir pra uma sala em que só havia filhos de doutores, juízes, médicos, empresários… Porém fui convencido que seria melhor para mim (e quem ouve a criança?). Era um estranho no ninho: pobre, filho de uma dona de casa e de um vendedor ambulante, não me destacava entre as outras filiações, às quais Dona Tedesco se enchia de orgulho em alfabetizar. Tinha que me esforçar muito para ter o mínimo de atenção. Era uma criança gordinha, pobre e viadinha, numa sala de privilegiados.
Certa vez, houve um concurso de desenhos, promovido por uma multinacional, no qual cada sala escolheria algumas crianças para participar de uma grande exposição, e o melhor desenho seria premiado com uma bicicleta. Dona Tedesco avisou que todos levassem seus materiais para o desenho, porém ela escolheria na hora quem participaria. Eu levei tudo que tinha: minhas hidrocores, lápis, giz de cera… enfim, estava muito motivado com a possibilidade. E no dia da escolha, apesar de demonstrar, pedir até, não fui um dos escolhidos por ela, obviamente. Quem era eu se comparado àquelas crianças ricas… E o monstro daquela alfabetizadora sem afetividades se ampliou diante de mim. Não conseguia mais assistir suas aulas. Só chorava. Inventei uma dor na perna. Por dias a fio, lembrava da rejeição e começava a chorar na sala. Tinha que me retirar e mentir sobre a dor inexistente. O machucado não estava ali na perna, minhas feridas eram outras. Mas para quem poderia me abrir e dizer a verdade? Como poderia me colocar contra a escolha da professora, que não era tia, era professora mesmo, era Dona? Quem me protegeria? Até em casa seria repreendido para deixar de frescura e ser forte. Não havia com quem contar, e a comida se apresentou como refúgio.
Não por coincidência, começo a ganhar peso a partir da primeira série, chegando à obesidade, que carrego consequências até hoje. Tive que me defender sozinho, engolindo goela abaixo as frustrações de nunca conseguir me encaixar às normalizações e normatizações impostas pela escola, naquela turma, por aquela Dona, que não agregava em seu nome a titularidade parental de tia, como Lucinha, mas era técnica, tecnicista, dura, normatizadora e respondia muito bem ao sistema educacional da DITAdura militar. Aliás como se ditava. Ditado era tecnologia pedagógica de assimilação e correção. Eu que errasse pra ver…
Preciado, em seu livro Um Apartamento em Urano: crônicas da travessia, traz um artigo intitulado: Quem defende a criança queer? No artigo ele questiona qual modelo de criança é defendido pelas instituições? A criança como corpo docilizado em formação. Corpo obediente às normas e disciplinarizações, obviamente. Corpos de criança que fogem ao considerado normal, são problemáticos, punidos, tratados como anômalos e punidos com tratamentos medicamentosos, idas à diretoria, conversas com a coordenadora, até a temida reunião com os pais, para comunicar que o filhe não se enquadra, não adere, não responde ao sistema capitalista de reproduções humanas servis.
Me esforcei muito para me adequar, me enquadrar… qual criança não deseja ser aceita? Mas sempre estive à margem… Por mais que me esforçasse, não era abastado financeiramente e não era filho de uma família com status social, que permitisse acessar certos espaços, como o do concurso de desenho. Estar à margem, exilado, sempre foi uma realidade, que hoje tenho consciência. Era visto como projeto de fracasso, mesmo que estudasse, tirasse notas boas… mas os olhos me julgavam e me colocavam como perdedor. Onde poderia chegar uma criança toda errada, gorda e pobre?
A tal dor na perna ainda hoje me dói nos assassinatos de cada corpo LGBTIA+ e Queer que é assassinado no país, que mais nos mata no mundo. Isso sem falar nos corpos que se suicidam. Essas vidas não ganharam o formulário da multinacional para o concurso de desenhos da vida. Foi dito não: na família, no trabalho, na igreja… Não! Aqui não te cabe, não te serve, não te aceitamos… São tantos nãos, como Dona Tedesco me proferiu, que talvez essa tenha sido sua principal função educacional. Aquele não representou vários outros que receberia vida afora e novamente não daria para chorar em casa. Quais colos teria para chorar? A comida tornou-se esse colo e ainda é, nos momentos de fuga em que os afetos desaparecem. Haja nutricionista comportamental para desconstruir uma sistemática de sublimação existencial. Mas, apesar de vocês, vinguei, Tedesco. Hoje pedalo numa linda bicicleta, comprada com meu próprio esforço.
Foi também porque fracassei naquele concurso negado que me tornei quem sou: um professor universitário queer, inventando outras possibilidades e arquiteturas de produção do saber decolonial. Percebi com o tempo, e a custo de anos de terapia, que nunca serei normal. Não quero investir mais nessas tentativas de tentar me enquadrar onde não me cabe. Eu não caibo nestes lugares, que são muito limitadores de minhas potencialidades. Sou dissidente, anormal consciente e orgulhoso, tentando sempre me libertar das utopias regulatórias do padrão idealizado, eurocentrado e cisheteronormativo, para construção de outros mundos possíveis e em aliança, em que a familiaridade ultrapasse as lógicas capitalistas neoliberais e os laços sejam bem mais que sanguíneos. São as cartografias das dissidências que me levam até onde cheguei, mas aviso, estou ainda em movimento, em trânsito, transições… porque o tempo, como diz o poeta, o tempo não para.
*Régis Moreira, Comunicólogo Social e Gerontólogo, doutor pela ECA (USP) em Ciências da Comunicação, docente do Depto de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde atua como pesquisador na área de comunicação, envelhecimento e gênero. Pesquisador do Observatório Nacional de Políticas Públicas e Educação em Saúde.


Deixe uma resposta